HISTÓRIA = diegese, ficção (conteúdo da narrativa)
0. O tema
• Tema, assunto e mensagem
• Motivos e símbolos
• Tom
Por vezes incluído como elemento da história, o tema é uma ideia ou conceito em torno do qual se desenvolve a história, por exemplo: o amor, o sofrimento, a inocência, a coragem; o bem versus o mal, a vida versus a morte; o poder (ganho ou perda), o indivíduo (versus o sistema ou a sociedade), a mudança (física ou psicológica), a sobrevivência (de um personagem ou de uma ideia); um mistério, uma busca, etc. (Gancho 2006, p. 34; v. também Carvalho, p. 107).
O assunto é a concretização do tema nos factos da história, isto é, aquilo que acontece na história para fazer a leitora compreender qual é o tema, enquanto que a mensagem é um pensamento ou conclusão que se possa depreender da história; nas fábulas populares é a «moral da história», mas nas narrativas modernas nem sempre a mensagem é moral, podendo ser imoral ou amoral (Gancho 2006, p. 34).
James Scott Bell (2004, pp.132-133) fala ainda em motivos (uma imagem ou frase repetida ao longo da história) e em símbolos (algo representativo de outro algo): a água pode ser um motivo central, recorrente, aparecendo em rios, no mar, na chuva; e também pode ser um símbolo, por exemplo, o medo de se afogar que uma personagem possa ter poderá ser símbolo de outros medos mais profundos, ou o fluxo da água como símbolo do fluxo do tempo. O tom da história pode ser humorístico ou sério, ligeiro ou negro, introspectivo ou aventuroso, etc.
1. As personagens
• Persona, ficção, construção textual
• Protagonista, antagonista, personagens secundárias, figurantes
• Round character ou flat character
• Personagem-tipo, caricatura, personagem colectiva
• Caracterização...
As personagens são entidades fictícias que desempenham o enredo, isto é, que executam as acções e a quem acontecem os acontecimentos (passe o pleonasmo!). As personagens só existem se agirem ou falarem, se interferirem no enredo; as acções e os acontecimentos só existem (e só fazem sentido coerente e plausível) por causa das personagens (Fernando Ferrara 1974 [‘Theory and model for the structural analysis of fiction’, New Literary History, 5, 245–268], p. 252, in Rimmon 2002, p. 37). Personagens e enredo são, portanto, interdependentes (Rimmon 2002, pp. 37-38), mas “é a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza” (Rosenfeld in Cândido et al. 1964, p. 21).
“Para designar os agentes da narrativa, os teorizadores e críticos literários de língua inglesa utilizam preferentemente o termo «caracteres» (characters). Trata-se de um termo com escassa tradição na terminologia literárias das línguas românicas e com um conteúdo psicológico e moral muito acentuado. Julgamos que o termo «personagem», com uma longa tradição na literatura, no teatro, nas artes plásticas e no cinema, pode e deve continuar a ser utilizado em narratologia. Na sua própria origem etimológica — persona — manifesta-se a ideia de «ficção» (...) Os textos literários narrativos são produzidos por homens para serem lidos por homens e que, por isso, os animais, os objectos e os conceitos que neles desempenhem funções de agente se encontram inevitavelmente antropomorfizados, mesmo que só implicitamente, porque o homem projecta neles os seus valores ou exprime através deles os seus valores (...). As personagens nunca são «formas vazias» ou «puros operadores» (...), remetem sempre (...) para um determinado horizonte de valores, para uma determinada ideologia.” (Aguiar e Silva, p. 694)
As personagens são elementos-chave do investimento ideológico e psicológico dos leitores, nas quais eles se projectam e com as quais se identificam como se elas fossem de carne e osso (Rimmon 2002, p. 35). Mas as personagens são construções textuais (Reuter 1997, p. 41). “Uma simples mas sã evidência: que uma personagem romanesca não é nada mais do que a projecção da vontade do romancista” (Jean-Louis Curtis 1950 [Sartre et le roman], citado em Bourneuf & Ouellet 1978, p. 129). Uma personagem é sempre invenção, mesmo que seja baseada numa pessoa (ou entidade) real; é definida na história pelos juízos que outras personagens e/ou o narrador fazem sobre ela.
A escritora Toni Morrison, Nobel da Literatura (citada por Assis Brasil 2019, p. 56), dizia que ela é que controlava as personagens, que ela é que escrevia e que, portanto, não era possível deixar que as personagens escrevessem os livros por ela. “Personagens não têm existência independente, mas sim aquela que lhes foi dada pelo ficcionista” (Assis Brasil 2019, p. 65). O que justifica, então, a persistência da ideia das personagens ganharem vida própria? Diz Assis Brasil (p. 56): “quando [a] personagem está bem construíd[a], [ela] deve fazer algumas coisas perante certas circunstâncias e não pode fazer outras, sob pena de ficar inconsistente.”
Quanto ao papel (ou função) desempenhado no enredo, as personagens podem ser classificadas (já desde o teatro clássico de Téspis e Ésquilo, e da Poética de Aristóteles) em: protagonista, a personagem principal, herói (que tem características superiores às do seu grupo; a mais complexa e a que está mais vulnerável perante o conflito) ou anti-herói (que tem características iguais ou inferiores às do seu grupo); antagonista, a personagem que se opõe ao protagonista, porque tem características diametralmente opostas ou simplesmente atrapalhando-o com suas acções (é muitas vezes um vilão); personagens secundárias, personagens menos importantes, auxiliares, ajudantes, testemunhas, com participação menor ou menos freqüente no enredo; ou figurantes, personagens que não desempenham qualquer papel específico, embora a sua existência seja importante para a compreensão do enredo (Carlos Reis [1978] considera mesmo os figurantes como parte das circunstâncias, do espaço social, do ambiente das personagens) (Teixeira & Bettencourt 1997, p. 105).
Outras classificações são correntes, como a de E. M. Forster (1937, Aspects of the novel) em round characters, o que se traduz insatisfatòriamente por «personagens redondas ou modeladas ou tridimensionais» (dinâmicas, com densidade psicológica, capazes de alterar o seu comportamento e, portanto, de evoluir) e flat characters, «personagens planas ou desenhadas ou bidimensionais» (estáticas, comportam-se de forma previsível, não evoluem); Rimmon (pp. 42-43) faz uma refutação bastante lúcida desta classificação de Forster, mostrando que há muitas personagens que não mudam ao longo da
narrativa e que, ainda assim, apresentam uma grande complexidade (ex. Bloom, no Ulysses de James Joyce); e outras
muito simples que no entanto se desenvolvem ― e todos os cambiantes entre os
dois pólos (a de Forster é, portanto, uma falsa dicotomia). Há ainda a classificação de Propp (doador, auxiliar, etc.), de difícil aplicação fora dos contos de fadas populares, ou a de Greimas (actante, adjuvante, etc.), cujas teorias são demasiado extensas, abstractas, ultrapassadas e de escassa utilidade para a prática da narrativa (podem ser lidas em Aguiar e Silva e mesmo em Timbal-Duclaux, por exemplo).
Podem ver-se, ainda, a «personagem-tipo», que representa um grupo social ou profissional reconhecível, e de que conhecemos os melhores exemplos nos autos de Gil Vicente; a caricatura, marcada por uma característica muito vinculativa; e a personagem colectiva, um grupo de indivíduos animado por uma só vontade: uma família, uma comunidade, uma cidade, um bairro [“A personagem básica nem é um indivíduo, nem um grupo social, mas uma cidade” (Aguiar e Silva, p. 702).] (Veríssimo et al. 1998, p. 27).
• Caracterização directa e caracterização indirecta
• Atributos e «ficha da personagem»
• Nome, vocabulário, sensações físicas, situações diferentes
• Questão essencial, motivação e objectivo
• Hierarquia de valores
Como as personagens são construções, elas são montadas pelos leitores a partir dos vários indícios dispersos pelo autor ao longo do texto (Rimmon 2002, p. 38), o que se designa por caracterização (melhor seria «personalização», já que não usamos a palavra «character», mas enfim). As características das personagens podem ser fornecidas à leitora pela fala do narrador ou das personagens (caracterização directa, usando adjectivos, nomes ou partes do discurso), ou deduzidas pela leitora a partir do comportamento das personagens (caracterização indirecta, pelas acções, falas, ambiente, aparência externa, etc.); na maior parte das narrativas ambos os modos ocorrem (caracterização mista) (Teixeira & Bettencourt 1997, p. 105; Moreira & Pimenta 1999, p. 316; Rimmon 2002, p. 61). A caracterização também se pode classificar como simples ou complexa, ou ainda física, psicológica ou social, etc.
Uma personagem é, com efeito, uma rede de indícios de caracterização distribuída ao longo do continuum textual (Rimmon 2002, p. 61). A escolha de certos atributos é forçada pela progressão da informação («um homem, chamado Pedro» — seria, em princípio, incoerente se se chamasse Leonor; e, se assim fosse, a leitora ficaria logo curiosa em saber o porquê de
um homem se chamar Leonor ― o nome seria um plot
device, como se verá na postagem HISTÓRIA II, sobre «O enredo») ou pelo lugar na frase («ele, lhe»... «eu, me»); a leitora é assim conduzida na atribuição de valores às personagens (Reuter 1997, p. 106). Os atributos das personagens são (a-c, Reuter 1997, pp. 100s; d-h, Timbal-Duclaux 1994, pp. 61s e 102s):
a. nomes (João), remetem para uma época, um género, uma geografia;
b. pronomes (ele, este);
c. perífrases (irmão mais velho);
d. singular ou plural;
e. masculino ou feminino, animal, planta, ser inanimado, etc.;
f. de origem popular ou erudita;
g. caracterizado por adjectivos (grande ou pequeno, inteligente ou idiota, etc.);
h. qual o seu habitat.
Isto é o que aparece muitas vezes nos manuais de escrita como a «ficha da personagem»; pode ter mais ou menos itens, desde que a personagem fique suficientemente caracterizada (p. ex. Timbal-Duclaux 1994, pp. 101-102). Luiz Antonio de Assis Brasil sugere uma divisão em elementos básicos (idade, situação financeira, preferências culturais, local onde mora, transportes que toma), questões mais profundas (sentimentos, sensações, fobias, crenças, o que espera dos outros, altuísta ou egoísta? opção sexual predominante, conservadora ou progressista? contradições que nem a própria personagem consegue explicar) e motivações (porque faz o que ela faz? o que quer da vida? porque age como age? qual o seu objectivo nessa história?).
Existe uma técnica da acumulação de indícios através de um narrador em 3.ª pessoa (Brait, p. 58), “simulando um registro contínuo, focalizando a personagem nos momentos precisos que interessam ao andamento da história e à materialização dos seres que a vivem” (Brait, p. 56). Não é preciso fazer a descrição física porque a leitora cria a sua própria imagem da personagem.
“O nome é um elemento importante na caracterização da personagem (...). O romancista declara em geral o nome da personagem logo que inicia o seu retrato, mas, por vezes, pode pintar esse retrato sem mencionar imediatamente o seu nome. Carlos de Oliveira abre o seu romance Uma abelha na chuva com um retrato inominado (...). O nome do personagem só será desvendado no capítulo seguinte. Obtém-se assim um efeito de expectativa, que prende e aguça a curiosidade do leitor. (...) O nome da personagem funciona como um indício, como se a relação entre o significante (nome) e o significado (conteúdo psicológico, idiológico, etc.) fosse motivada intrinsecamente. (...) Álvaro Silvestre, protagonista de Uma abelha na chuva, tem um apelido que denota e conota rusticidade, uma árvore genealógica de lavradores e labregos contraposta à linhagem dos Pessoas, Alvas e Sanchos, donde procede a mulher com quem casou; esta contraposição explica-se logo no capítulo III:
«... ela própria se apresentou:
— Maria dos Prazeres Pessoa de Alva Sancho... Silvestre.
Destacou com ironia o sobrenome do marido.»
(...) Quando os retratos são inexistentes ou escassos, a personagem (...) adquire significação (...) através das suas palavras, dos seus actos e das suas oposições, diferenças e afinidades relativamente a outras personagens.” (Aguiar e Silva, pp. 704-706)
“[A] personagem usará um
vocabulário e um tipo de frase que correspondam [à] formação escolar, vivências e leituras [dela], e não os que [o autor] usa. Esse aspecto costuma ser negligenciado.” (Assis Brasil, p. 233) “Para tornar verosímil uma descrição centrada numa personagem, o autor pode utilizar diversos artifícios: mudança de luminosidade (uma luz que se acende, o dia que desponta, o cair do crepúsculo, etc.), que obrigam ou convidam a personagem a reparar nos seres, nos objectos e nas paisagens; deambulação da personagem, com conseqüente descrição do que vai vendo; situação da personagem, ou na proximidade de uma janela que lhe permite ver o mundo exterior, ou num lugar de onde pode avistar um grande espaço (alto de um monte, cimo de um edifício); etc.” (Aguiar e Silva, p. 744). Como diz Assis Brasil (p. 303): “Você usa todos os sentidos em sua ficção? Quanto maior o número de
sensações físicas experimentadas pelo personagem, mais o leitor acreditará nele.” Colocar a mesma personagem em
situações diferentes ajuda a aprofundá-la (
in EscreverEscrever,
Personagens para ficção).
Stendhal: “Suponhamos que um estenógrafo se podia tornar invisível e manter-se um dia ao lado de M. Pétiet, escrevia tudo o que dissesse, anotava todos os seus gestos; um excelente actor, munido deste procès-verbal, poderia reproduzir-nos M. Pétiet tal como ele foi nesse dia. Mas, a menos que M. Pétiet tivesse um carácter muito notável e fizesse acções muito notáveis também, esse espectáculo só poderia interessar àqueles que o conhecessem” (citado por Bourneuf & Ouellet 1978, p. 251). “O raro é o infreqüente; o único é o que não se confunde com ninguém: o ficcionista deverá criar as suas personagens de modo que se exponham as características que as tornam únicas. Como fazer isso? Pela soma e sobreposição de atributos de mais variada natureza, em geral contrastantes, mas só aqueles que interessam à história.” (Assis Brasil 2019, p. 47) Eça caracteriza Maria Eduarda Runa como «uma linda morena, mimosa e um pouco adoentada», dois adjectivos positivos e suaves logo contrastados com uma característica negativa, inesperada — é este choque de realidade que faz existir a personagem (Marco Neves, Gramática). Contradições, sim, mas consistentes com a personagem e as circunstâncias.
As personagens, como se viu, só existem se agirem ou falarem, se interferirem no enredo e, para tal, precisarão de ter uma motivação para agir e um objectivo a atingir. “A consistência [da] personagem implica que [ela] possua uma questão essencial, anterior à própria narrativa e que seguirá com [ela] mesmo depois do ponto-final. Essa questão é que dará sentido e, de certo modo, provocará a história e, assim, o enredo.” (Assis Brasil 2019, p. 173) A questão essencial “é uma componente da personalidade que uma pessoa (e, portanto, [uma] personagem) carrega de modo permanente e, quase sempre, com intenso sofrimento” (Assis Brasil 2019, p. 104); é um problema, um assunto a ser resolvido, são dúvidas, embates internos e buscas que quase nunca resultam em algo de aproveitável — é necessária para deflagrar o conflito de maneira verosímil. A questão essencial é que leva à motivação para atingir o objectivo, por exemplo: Hamlet é um jovem melancólico (questão essencial) que tem terrível obediência ao pai (motivação), o que o faz vingar o assassínio do pai (objectivo). Tudo o que acontece numa história deverá ter uma explicação de natureza literária, e esta reside na profundidade da personagem; acontecimentos aparentemente gratuitos são necessários tendo em conta a personagem (Assis Brasil 2019, p. 40).
Costuma dizer-se que as personagens mudam ao longo da história consoante o que lhes vai acontecendo: “no decorrer do enredo, a personagem age, envolve-se em complicações, tenta sair delas, (...) e isto tudo faz com que se transforme (resolva a sua questão essencial) ou que altere a sua atitude perante o conflito (perante a sua questão essencial)” (Assis Brasil 2019, p. 129). No fim da história a personagem está diferente (ou ao menos tem uma visão do seu mundo diferente daquela que tinha quando começou a história). A este percurso James Scott Bell chama «the character arc» (2004, pp. 141s), que equivale à estrutura do enredo (v. a postagem HISTÓRIA II), mas o que importa é que cada personagem tem uma hierarquia de valores desde os mais fundamentais até aos mais superficiais: crenças, valores, atitudes e opiniões. Se uma opinião muda, isso não afecta imediatamente as atitudes, mas se mudam várias isso já é capaz de mudar atitudes da personagem, e depois os valores e depois as crenças (as mais difíceis de mudar). Por outro lado, se uma personagem muda de crença, isto é, deixa de acreditar numa coisa e de repente passa a acreditar noutra, isso tem efeitos imediatos nos seus valores, nas suas atitudes e nas suas opiniões.
Bell (2004, pp. 149-150) sugere que um autor construa uma tabela onde possa seguir o percurso da personagem, começando por 1.º descrever a hierarquia de valores no início da história, 2.º descrever a hierarquia de valores no final da história (o que a personagem aprendeu, estando mudada), 3.º descrever como a hierarquia de valores vai mudando do início para o fim, criando episódios para desenvolver essa progressão numa sucessão lógica que leve a personagem ao estado mudado final. Não é o final da história que a leitora quer saber com minúcia — o que se deseja saber é o que acontecerá com as personagens!
2. As circunstâncias
• Espaços (físicos)
• Ambientes, habitat e clima
• Tempo da história (cronológico)
• Época histórica
• «Espaços e tempos psicológicos»
Noto que quase todos os autores que escrevem sobre teoria literária preferem falar em espaço (lugar onde decorre a acção) e em tempo da história (momento em que decorre a acção) separadamente, elementos da narrativa cada um. Mas, a meu ver, as personagens estão inseridas em mais do que o seu tempo e o seu espaço e, portanto, prefiro seguir certos autores anglo-saxónicos que incluem tudo o que circunda as personagens num só elemento: «the setting». Já para não falar de que existem diferentes tipos de tempo, como se viu antes, e de que se teriam de considerar como espaço coisas que de espaço não têm nada, como o clima (o que costumamos chamar de «tempo») ou o «espaço» social, o psicológico, os ambientes, etc...
Eu prefiro, portanto, chamar-lhes circunstâncias, no sentido dado ao termo por José Ortega y Gasset («Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo», nas Meditaciones del Quijote, 1914) porque é uma designação muito mais abrangente.
Assim, as circunstâncias são o ambiente/ meio/ universo/ cenário/ setting/ envolvente/ atmosfera/ situação/ contexto/ espaço-tempo/ cronótopo das personagens e dos acontecimentos, das acções e dos conflitos. São circunstâncias psicológicas, morais, ideológicas, temporais, espaciais, etc. Fornecem indícios para o andamento do enredo.
“O efeito real é mais tributário da apresentação textual do que da realidade dos lugares e dos tempos” (Reuter 1997, p. 54). Tanto as indicações de espaço como as de tempo podem assumir funções de descrição das personagens (quem vive numa mansão não é, em princípio, um pobretanas) ou de facilitar ou dificultar a acção (a menos que estejamos no mundo da fantasia ou da ficção científica, ou
que haja um
plot device, não se demora 5 segundos a atravessar o oceano) (Reuter 1997, pp. 55 e 58).
“Espaços descritos com intencionalidade conduzem o leitor a perceber por si mesmo o estado emocional [das] personagens. (...) Flaubert e Eça: utilizando o espaço com intenções descritivas de estados emocionais ou morais, eles cooptam o leitor sem que seja preciso explicar as intenções de Rodolphe ou o sentimento de desonra experimentado por Luísa.” (Assis Brasil 2019, pp. 298-299)
Os espaços físicos ou geografia onde se passa a história, os lugares físicos exactos, os cenários, ex. rural ou urbano, aberto ou fechado, interior ou exterior, público ou privado; influenciam e são influenciados pelas acções das personagens ao longo do enredo. “Dois tipos de espaço: o que aprisiona as pessoas, e o que as lança na aventura. O 1.º é aprofundar a vida interior (é opressivo, um labirinto); o 2.º implica deslocações, mudanças de lugar (tornam sensível o escoar do tempo, ritmando-o, p. 139, ou trazem rupturas que fazem progredir a história; levam à felicidade)” (Bourneuf & Ouellet pp. 166-167).
Os ambientes sociais, familiares, demográficos são os aspectos ou condições sócio-económicas, morais e psicológicas, grupo social e condições de vida, meio cultural, meio civilizacional, etc. O habitat das personagens, “panoramas, luz, sombra, formas, planos, sentidos, distância em relação ao objecto, mudanças” (Bourneuf & Ouellet p. 157, «campos semânticos»). O clima (o que em português se chama «tempo»): sol ou chuva não significam o mesmo na história.
O tempo da história é o tempo cronológico, o tempo em que as acções acontecem, o tempo real que transcorre na ordem natural dos acontecimentos, do começo até ao fim da história; é mensurável em horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, etc. Ainda se pode concretizar a época histórica ou «tempo histórico» (não confundir com tempo da história) na qual a história está inserida, ex. actualidade ou Idade Média.
“Personagens diferentes têm percepções diferentes do mesmo espaço e do mesmo tempo, porque o homem vive no tempo, na sucessão, e o mágico animal, na atualidade, na eternidade do instante” (Assis Brasil 2019, pp. 287 e 320-321, citando Borges), e são estas percepções subjetivas, diferentes consoante a personagem e em consonância com o seu estado de espírito, que se chamam de «espaços e tempos psicológicos».




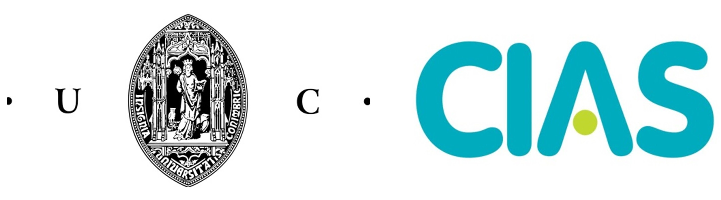




.jpg)