Ver também a postagem «A Marinha Portuguesa nas Guerras Napoleónicas».
Isto é a parte 1 de 2 de uma transcrição quase na íntegra de um capítulo de António José Telo sobre a Marinha entre os fins do século XVIII e as guerras liberais. As enumerações vão em listagens, em vez do texto corrido original, para melhor visualização.
[ N A V I O S ]
«(...) Portugal, quando as Guerras Napoleónicas começaram, tinha a sua marinha num ponto alto, tanto em termos de qualidade como de quantidade. Em 1791, alinhava uma força de
• 12 naus,
• 15 fragatas,
• 3 corvetas,
• 9 brigues,
• 6 charruas
• e navios auxiliares,
a que havia a somar a marinha da Índia, com
• 1 nau e
• 7 outros pequenos navios [Números do subdirector da DGC do Ministério da Marinha, António do Nascimento Rosendo, no seu depoimento perante as cortes. Inquérito às Repartições da Marinha, tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 425].
Era uma esquadra que correspondia a um terço da espanhola ou metade da holandesa, o que transformava Portugal num poder naval de terceira ordem muito razoável. O que era mais, esta força não só era numericamente substancial, como estava ao nível das equivalentes e conseguia operar sem desprimor ao lado da Royal Navy. Na primeira fase das Guerras Napoleónicas o país, a pedido da Inglaterra, cria duas esquadras que apoiam as operações britânicas nas principais frentes da guerra naval:
― o canal da Mancha (força nacional de
• 4 naus,
• 1 fragata e
• 2 brigues)
― e o Mediterrâneo (força nacional de
• 5 naus,
• 1 corveta e
• 1 brigue).
Portugal, em resumo, tinha uma marinha muito razoável em termos numéricos, que era tecnicamente o equivalente a outras do seu tempo, que podia manter operações longe dos portos nacionais nos teatros mais exigentes e que era quase na totalidade de fabrico nacional e operada por nacionais. Era uma força naval oceânica, não no sentido de ser capaz de assegurar sozinha o controlo do Atlântico, mas no sentido de dar um contributo significativo para tal. A Armada servia principalmente para controlar uma rota oceânica (a do Brasil) e podia operar ao lado da Inglaterra nos principais teatros de operações navais, onde a guerra era mais exigente, tudo capacidades que se iam perder a curto prazo.
Em 1807, quando a corte retira para o Brasil, todos os navios capazes de navegar a acompanham. A esquadra que transporta os 15 000 portugueses era formada por 40 navios mercantes, escoltados por
• 8 naus,
• 5 fragatas,
• 4 brigues,
• 1 charrua e
• 1 escuna nacionais,
para além de três naus britânicas. Ao mesmo tempo, o comboio anual do Brasil que estava a chegar ao reino, formado por mais umas dezenas de velas, é desviado para Londres e já não descarrega os produtos que transporta em Lisboa. Na capital só ficam os navios incapazes de navegar ou os que não foi possível armar a tempo, o que é ainda uma força razoável de
• 4 naus,
• 6 fragatas,
• 1 corveta,
• 1 brigue e
• 1 charrua.
A Marinha portuguesa em 1807 estava, em resumo, ao mesmo nível do começo das Guerras Napoleónicas, em 1791, com 12 naus (mais uma na Índia) e 11 fragatas como unidades principais.
Em poucos anos, esta força vai desaparecer como se tivesse sido tragada pelos mares numa imensa batalha, apesar de nenhum navio principal ter sido perdido em combate. Quando a corte chega ao Brasil, os navios que a transportaram eram inúteis, não podiam voltar ao reino e custava muito caro mantê-los armados, numa altura em que as dificuldades financeiras eram imensas. A Inglaterra, que se mostrava disposta a financiar o Exército português a partir de 1808, não fazia o mesmo em relação à Marinha, pelo simples mas inapelável motivo de que não precisava de mais navios depois da vitória em Trafalgar. O que é mais, a principal função da Marinha nacional desaparece, pois os portos do Brasil são abertos ao comércio internacional e não é mais necessário fiscalizar essa linha vital atlântica da qual dependia a prosperidade do Estado central do Antigo Regime. A Marinha inglesa era suficiente para proteger a navegação que sai do Brasil, até porque esta segue principalmente em navios de bandeira britânica que se dirigiam para Londres depois de 1808.
É de notar que, quando a corte chega ao Brasil, são abertos de imediato os seus portos à navegação aliada e, em poucos meses, estabelecem-se mais de 200 casas comerciais britânicas. Os tratados assinados com a Inglaterra em 1810, numa altura em que a dependência em relação ao apoio britânico para combater o invasor francês era máxima, apontam para uma clara inserção do eixo Portugal-Brasil num Atlântico dominado pela Inglaterra. As mercadorias inglesas no Brasil, por exemplo, pagavam direitos inferiores às nacionais, o que corta com qualquer veleidade de afirmação de uma actividade manufactureira nesse território. A contrapartida muito importante era a garantia dada pela Inglaterra de que defendia a integridade do território e a manutenção da Casa de Bragança.
Reconstituição da chegada ao Rio de Janeiro em 1808. Quadro de 1999 por Geoffrey Hunt (n. 1948), artista contemporâneo de temas navais; adaptado com os nomes dos navios.
Neste contexto, é compreensível que a corte tenha decidido desarmar a quase totalidade das naus e das fragatas e dispensar grande parte dos oficiais das suas guarnições. Os navios seriam mantidos inactivos durante longos anos ancorados na Ilha das Cobras (Rio de Janeiro). Na sua maioria apodreceram rapidamente no clima tropical. As naus portuguesas que ainda navegam são as que ficaram em Lisboa, que Junot mandou recuperar à pressa na ilusão de as poder utilizar contra os navios britânicos, que, em grande número, asseguravam o bloqueio permanente dos portos nacionais. Mesmo essas naus, porém, são desarmadas quando Junot é expulso de Portugal em 1808.
Em Agosto de 1810 só uma nau está armada e navega (a Vasco da Gama), isto para uma marinha que ainda três anos antes alinhava 13 naus. A missão dos poucos navios portugueses operacionais no continente é essencialmente a de manter a esquadra do estreito, que protegia a navegação contra os corsários berberescos. No Brasil uma força apoiava as operações terrestres que a corte desencadeou contra as colónias francesas e as antigas colónias espanholas, mas formada somente por pequenos navios, pois as naus e fragatas não tinham utilidade numa guerra que era essencialmente costeira.
Das oito naus que partem de Lisboa em 1807 só uma regressa ao reino (a Rainha de Portugal). A maior parte das outras será abatida devido à deterioração, depois de longos anos de imobilização. Mais importante ainda era o facto de nestes anos (1807 a 1824) só se ter fabricado uma nau em Portugal (a D. João VI) e, mesmo assim, com grandes dificuldades, pois seria começada em 1806 e lançada à água dez anos depois, em 1816.
A independência do Brasil 1822 é mais uma terrível machadada nesta força já muito debilitada. A maior parte da marinha que estava no Brasil adere à causa encabeçada por D. Pedro e, fortalecida por oficiais britânicos voluntários [O Brasil contratou logo a seguir à proclamação da independência os serviços de um almirante, quatro capitães-de-fragata, um capitão-tenente, 13 primeiros-tenentes e 10 segundos-tenentes britânicos. Cf. Esparteiro, 1974-1988, vol. 7, 162.], impõe-se sem grandes dificuldades aos restos da Marinha portuguesa que tinha perdido a capacidade de controlar os oceanos. Portugal passa mesmo pela vergonha de, para além de não conseguir enviar nenhuma expedição significativa para o Brasil, perder 15 dos 40 navios mercantes do comboio no qual retiram as tropas fiéis a Lisboa, perante uma força naval menor, mas comandada por oficiais ingleses, que têm à sua frente lorde Cochrane.
Em 1824 Portugal só conta com
• 2 naus,
• 8 fragatas e
• 10 corvetas.
Só uma das naus está armada (a D. João VI, com oito anos), pois a outra (a Rainha de Portugal) está em mau estado e desarmada; a nau D. Sebastião é irrecuperável para o serviço da esquadra, pelo que não a contamos. Significa isto que a Marinha portuguesa de 1824 é equivalente a um terço da força existente em 1807 em termos de homens e toneladas. A perda qualitativa é muito mais importante, pois passou-se de uma esquadra com 13 unidades de combate principal (as únicas que contam em termos de controlo dos oceanos) para outra com duas, das quais só uma estava em boas condições. Portugal tinha perdido a capacidade de manter uma força oceânica significativa e não mais a recuperaria posteriormente. A partir de agora a Marinha nacional seria uma força costeira e de projecção imperial, só capaz de exercer uma acção de controlo dos oceanos em termos costeiros nas lutas internas (e esta é muito importante para a evolução nacional), mas incapaz de contribuir de forma significativa para o controlo global dos oceanos, o que foi a sua missão principal no primeiro período das Guerras Napoleónicas.
O que se tinha perdido sobretudo não eram os navios apodrecidos e os oficiais dispensados do serviço, pois estes eram recuperáveis, embora os primeiros fossem mais fáceis de substituir que os segundos. O que se tinha perdido era muito mais vasto. O que se tinha perdido era o acesso às fontes de matérias-primas e aos estaleiros vitais do Brasil, para os quais passaram em 1807 os melhores técnicos portugueses, bem como os lentes em peso dos estabelecimentos de ensino da Marinha; o que se tinha perdido era um Estado central forte e financeiramente são, que pudesse incentivar o desenvolvimento da base do poder naval; o que se tinha perdido, e isto era, sem dúvida, o mais importante, era a capacidade de acompanhar a evolução técnica internacional, justamente na altura em que esta passa a ser muito rápida e dá um imenso pulo qualitativo sob o impulso da Revolução Industrial.»
Referência
• António José Telo (2004) Portugal e a primeira vaga de inovação contemporânea. In Manuel Themudo Barata & Nuno Severiano Teixeira, Nova História Militar de Portugal, vol. 3, pp. 344-347.



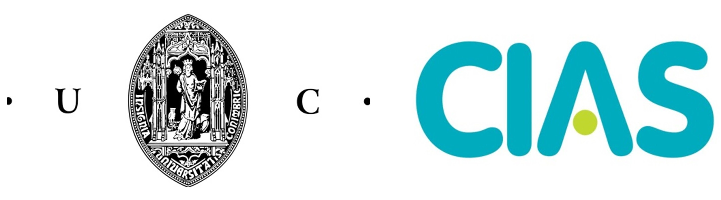




.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário