Ver também a postagem «A Marinha Portuguesa nas Guerras Napoleónicas».
Isto é a parte 2 de 2 de uma transcrição quase na íntegra de um capítulo de António José Telo sobre a Marinha entre os fins do século XVIII e as guerras liberais. As enumerações vão em listagens, em vez do texto corrido original, para melhor visualização.
[ A R S E N A I S ]
«Portugal tinha ao seu dispor antes da independência do Brasil essencialmente três núcleos de arsenais: os do continente, do Brasil e da Índia. No continente, destacava-se pela sua importância o Arsenal da Marinha, em Lisboa, mas a ele podíamos juntar dezenas de arsenais privados, alguns capazes de contruir grandes navios, situados principalmente na zona do Porto, Viana, Aveiro e Figueira da Foz. No Brasil, o principal arsenal era o da Bahia, logo seguido pelo Pará, pelo Rio e por meia dúzia de outros de algum significado. Na Índia, contava-se principalmente com o arsenal de Damão.
Os arsenais do Brasil e da Índia tinham acesso fácil a madeiras raras, de excelente qualidade, que eram a matéria-prima mais difícil de obter para as contruções navais. A grande fonte destas madeiras eram as imensas florestas do Brasil, que alimentavam os arsenais da Bahia e do Pará e eram exportadas para Lisboa.
Qual a importância relativa destes centros em termos dos navios principais da Armada?Em fins de 1824 a situação era a seguinte:
― as duas naus foram feitas em Lisboa;
― as oito fragatas eram,
• uma de Lisboa,
• uma de Damão,
• três da Bahia,
• duas do Pará e
• uma era presa capturada à França nas Guerras Napoleónicas;
― das 10 corvetas,
• quatro eram de Lisboa,
• uma de Damão,
• três do Pará/Bahia,
• uma presa capturada e
• um navio mercante convertido;
― dos 12 bergantins e brigues, só nos foi possível apurar a origem de nove, sendo
• dois feitos em Lisboa,
• dois na Índia,
• quatro no Brasil e
• um de contrução britânica.
Em resumo, nos 29 navios mais importantes da Armada dos quais foi possível apurar a origem (naus, fragatas, corvetas, bergantins e brigues),
• 9 eram do Arsenal da Marinha de Lisboa (31%),
• 4 da Índia (13%),
• 12 do Brasil (41%) e
• 4 (13%) eram de construção estrangeira, tendo vindo para a Armada quase todos como presas.
Temos assim a imagem de uma esquadra que dependia quase só dos estaleiros nacionais (25 navios dos 29 principais), mas onde o grande centro de construções era o Brasil, de onde provinham quase metade das construções (12 navios em 25 de origem nacional). Outra conclusão era que a construção naval nacional estava muito concentrada em somente quatro arsenais:
• Lisboa,
• Bahia,
• Pará e
• Damão.
O Porto, Viana, Rio e Luanda só contribuíam com navios menores para a Armada, como escunas, charruas, iates, chalupas, cúteres e outros.
Com estes números é fácil entender a importância da independência do Brasil para o poder naval nacional. Ela representa a perda do centro de onde tinham vindo metade dos principais navios de origem nacional em 1824. É um golpe especialmente duro porque surge numa altura de decadência dos estaleiros nacionais, onde os brasileiros eram ainda os que melhor funcionavam, em parte porque a corte estava no Rio, mas em parte porque tinham recebido centenas de técnicos e artífices nacionais desde 1807, muitos provenientes das tripulações das naus que apodrecenam no Rio, sem voltarem ao mar.
O Arsenal da Marinha de Lisboa, o mais importante estabelecimento industrial nacional em começos do século, torna-se uma sombra de si próprio com as Guerras Napoleónicas. Antes, era capaz de construir uma média de duas naus e duas fragatas em cada três anos; depois de 1815, o Arsenal só inicia a construção de mais uma nau (a Vasco da Gama) e esta é um verdadeiro atestado à sua incompetência, pois, começada na carreira em 1824, só é lançada à água em 1841 e só arma em 1845 ― uns espantosos 21 anos depois de começada! Escusado será dizer que a Vasco da Gama era obsoleta quando lançada à água, pois não incorporava nenhuma das novidades técnicas que se tinham desenvolvido nos estaleiros estrangeiros, mas eram impossível de aplicar nas condições da construção em Portugal.
Por outras palavras, não só o Arsenal da Marinha tinha passado de uma média de
• uma nau em cada ano e meio para
• uma nau em 10 anos (a D. João VI) e, finalmente,
• uma nau em 21 anos (a Vasco da Gama),
como os navios aí construídos, apesar de se chamarem naus, tinham deixado de ser unidades de combate principal equivalentes tecnicamente às das marinhas europeias. A Vasco da Gama, aliás, passaria a maior parte da sua vida útil como depósito de marinheiros e as poucas viagens oceânicas que fez tendiam a correr mal.
O Arsenal da Marinha em Lisboa am 1793. Imagem retirada daqui.
Charles Napier deixou uma descrição pungente do que era o Arsenal da Marinha quando o dirigiu no começo da década de trinta [Charles Napier (1836) An account of the war between D. Pedro and D. Miguel, 2 vols., Londres]. É um testemunho precioso, proveniente do grande comandante naval deste período, que seria não só o principal chefe militar da vitória liberal em Portugal, como um dos reformadores da Royal Navy e um dos seus melhores almirantes entre 1820 e 1850. Napier compara o Arsenal da Marinha com os estabelecimentos congéneres ingleses e fica espantado com praticamente tudo: o imenso número de chefias incompetentes e ignorantes dos mais recentes desenvolvimentos das técnicas navais; os hábitos de trabalho dos Portugueses; a politização do clima do Arsenal e as perseguições contra os que não apoiavam a facção no governo; a falta de organização; o grau de exigência muito baixo; a constante improvisação, o que ainda era a melhor forma de solucionar os permanentes problemas; a interferência do ministro e das chefias superiores a todos os níveis; a falta de critérios de rentabilidade ou comerciais. Era um imenso choque cultural e de mentalidades entre Charles Napier e os hábitos prevalecentes no que, ainda em 1807, era um dos mais importantes arsenais da Europa. Escusado será dizer que o conflito acaba da única forma possível: Napier é afastado ao fim de pouco tempo da chefia do Arsenal, muito em especial quando começa a atacar os processos de preferências e privilégios políticos.
Ao ler a descrição que Napier deixou do que era o mais importante estabelecimento industrial nacional em 1834 é fácil entender como se passou de uma nau moderna em cada ano e meio para uma nau obsoleta em cada 21 anos, que ficava por um custo pelo qual se poderiam comprar pelo menos três naus modernas no estrangeiro. É também fácil entender como era possível que os navios nacionais não aguentassem manter o bloqueio da Terceira nos fortes mares dos Açores no Inverno, enquanto os da Royal Navy o faziam sem dificuldade de maior. Como Napier refere, para dar só um exemplo, as meras velas nacionais eram nesta altura de fraca qualidade e mal confeccionadas, a ponto de não aguentarem as rajadas de vento mais fortes, pelo que os oficiais as mandavam recolher assim que o tempo mudava, enquanto os navios ingleses podiam manter o pano em idênticas circunstâncias. Era a prova de que a qualidade é uma conceito global que, uma vez perdido em campos fundamentais, se estende rapidamente a outros, mesmo àqueles que dependem de técnicas tradicionais, que Portugal dominava desde há séculos, como era o caso da confecção de velas.
Para além da Vasco da Gama, a Marinha nacional só recebe em termos de navios principais (naus e fragatas) mais uma unidade nova até 1858: a fragata D. Fernando II e Glória, construída em Damão, a última «nau da Índia», actualmente preservada []. Das outras quatro fragatas aumentadas nestes anos, três eram antigos navios mercantes comprados pelos liberais na Inglaterra e transformados à pressa nos estaleiros estrangeiros em fragatas; a outra era a antiga charrua Maia e Cardoso, que seria classificada como fragata a partir de 1833. A ruína dos estaleiros nacionais não podia ser mais completa: no meio século posterior às Guerras Napoleónicas só produziram dois navios de combate significativos, mais concretamente uma nau obsoleta (Arsenal de Lisboa) e uma fragata de grande beleza mas duvidosa eficácia (Arsenal de Damão) [v. António Emílio de Ferraz Sachetti (1998) D. Fernando II e Glória, Lisboa, ed. CTT].»
Referência
• António José Telo (2004) Portugal e a primeira vaga de inovação contemporânea. In Manuel Themudo Barata & Nuno Severiano Teixeira, Nova História Militar de Portugal, vol. 3, pp. 344-347.




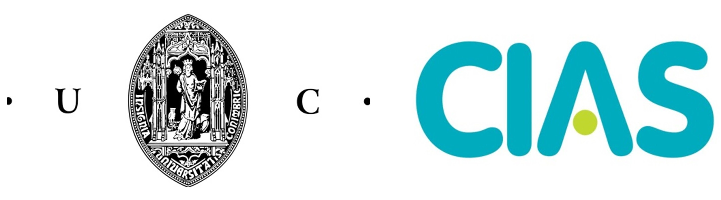




.jpg)