1. Gracejos que matam (Fascículo I, 1875)2. O comendador (Fascículo II, 1876)3. O cego de Landim (Fascículo III, 1876)4. A morgada de Romariz (Fascículo IV, 1876)5. O filho natural (Fascículo V e VI, 1876)6. Maria Moisés (Fascículo VII, 1876; Fascículo VIII,1877)7. O degredado (Fascículo IX, 1877)8. A viúva do enforcado (Fascículo X, XI e XII, 1877)
sábado, 29 de março de 2025
Romances e novelas no século XIX português
terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
sexta-feira, 31 de janeiro de 2025
Citações objectivas
quarta-feira, 25 de dezembro de 2024
Boas Festas
sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Romances e novelas de Camilo Castelo Branco
É surpreendentemente difícil encontrar on-line a lista completa dos romances e novelas de Camilo. Só se encontram selectas e listas de «obras principais» (e quem decide o que é principal?). Eu sei que o homem publicou umas 260 obras e que não seria prático estar a decliná-las todas cada vez que se fala no escritor, mas seria agradável achar os títulos todos pelo menos uma vez... Vou, como tal, deixá-los aqui para meu uso pessoal e para quem mais ende quiser fazer uso. São 60, se aceitarmos contar as Novelas do Minho como uma só obra, caso contrário serão 67 obras de ficção. As quatro colectâneas de narrativas curtas (ficção, mas incluem também ensaios, crónicas e até peças de teatro), o folheto de cordel e o romance destruído poderiam ficar de fora ― o total anda à volta das 60 obras, dependendo do método de contagem.
1848: Maria! Não me mates que sou tua mãe! (folheto de cordel)
1851: Anátema (o seu primeiro romance)
1854: Mistérios de Lisboa (em 3 volumes)
1854: A Filha do Arcediago
1854: Um Livro* (colectânea de narrativas curtas)
1855: Livro Negro de Padre Dinis
1856: A Neta do Arcediago
1856: Onde Está a Felicidade?
1856: Um Homem de Brios
1857: Lágrimas Abençoadas
1857: Cenas da Foz
1858: Carlota Ângela
1858: Vingança
1858: Que Fazem Mulheres
1861: Doze Casamentos Felizes
1861: O Romance de um Homem Rico
1862: As Três Irmãs
1862: Amor de Perdição
1862: Coisas Espantosas
1862: Coração, Cabeça e Estômago
1862: Estrelas Funestas
1863: Anos de Prosa
1863: Aventuras de Basílio Fernandes Enxertado
1863: O Bem e o Mal
1863: Estrelas Propícias
1863: Memórias de Guilherme do Amaral
1863: Cenas Inocentes da Comédia Humana* (narrativas curtas)
1863: Agulha em Palheiro
1863: Noites de Lamego* (narrativas curtas)
1864: Amor de Salvação
1864: A Filha do Doutor Negro
1864: Vinte Horas de Liteira
1865: O Esqueleto
1865: A Sereia
1866: A Enjeitada
1866: O Judeu (em 2 volumes)
1866: O Olho de Vidro
1866: O Santo da Montanha
1866: A Queda de um Anjo
1867: A Bruxa de Monte Córdova
1867: A Doida do Candal
1867: O Senhor do Paço de Ninães
1868: Mistérios de Fafe
1868: O Retrato de Ricardina
1868: O Sangue
1869: Os Brilhantes do Brasileiro
1870: A Mulher Fatal
1872: A Infanta Capelista (destruída; aproveitada para:)
1872: Carrasco de Victor Hugo José Alves
1872: Livro de Consolação
1873/74: O Demónio do Ouro (em 2 volumes)
1874: O Regicida
1875: A Filha do Regicida
1875/76: A Caveira da Martyr (em 3 volumes)
1875/77: Novelas do Minho, em 8 novelas repartidas por 12 fascículos:
1. Gracejos que matam (Fascículo I, 1875)
2. O comendador (Fascículo II, 1876)
3. O cego de Landim (Fascículo III, 1876)
4. A morgada de Romariz (Fascículo IV, 1876)
5. O filho natural (Fascículo V e VI, 1876)
6. Maria Moisés (Fascículo VII, 1876; Fascículo VIII,1877)
7. O degredado (Fascículo IX, 1877)
8. A viúva do enforcado (Fascículo X, XI e XII, 1877)
1879: Eusébio Macário
1880: A Corja
1882: A Brasileira de Prazins
1885/86: Serões de S. Miguel de Ceide* (narrativas curtas)
1886: Vulcões de Lama
Não incluo, portanto, textos de não-ficção como Memórias do Cárcere, biografias, etc., nem peças de teatro, poesia, enfim. As obras completas de Camilo (Publicadas sob a direcção de Justino Mendes de Almeida. Estudos biobibliográficos, fixação do texto e anotações. 1982. Lello & Irmão ― Editores. Porto. 18 vols. 12,5×19,5 cm. Encadernações do editor. Impressos sobre papel bíblia [ver, por exemplo, aqui]) contêm:
- Romances e Novelas: Vols. I - IX
- Teatro: Vols. IX - X
- Poesia: Vols. X - XI
- Narrativas: Vol. XI
- Crónicas: Vol. XII
- Artigos: Vol. XIII
- Biografias: Vol. XIII
- Miscelâneas: Vols. XIII - XVI
- História e Crítica: Vol. XVI
- Polémica: Vol. XVII
- Correspondência: Vols. XVII - XVIII
- Prefácios: Vol. XVIII



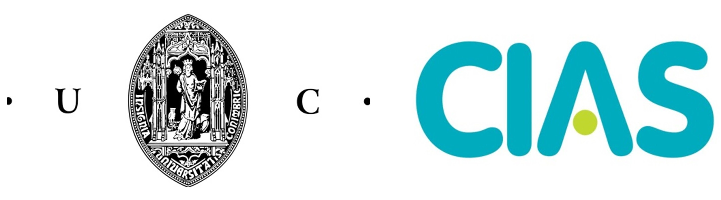




.jpg)